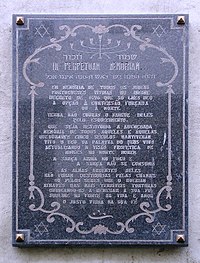- Entrou
- Set 24, 2006
- Mensagens
- 9,470
- Gostos Recebidos
- 2
Águeda
História de Águeda
Existem no actual concelho de Águeda abundantes vestígios comprovativos da presença romana, nomeadamente na estação arqueológica do Cabeço do Vouga. Relativamente à cidade, há fortes probabilidades de que a via romana que ligava Aeminium (Coimbra) a Cale (Gaia) passasse por Águeda.
No que concerne ao próprio nome de Águeda, existem várias suposições tendentes a desvendar a origem no nome do rio aqui situado, o qual já no século IX se chamava Ágata.
Em documento datado de 1050 são mencionadas diversas villas situadas na área do actual cocelho de Águeda, tendo várias delas topónimos de origem árabe.
A cidade actual procede do repovoamento feito nos inícios da Nacionalidade (século XI-século XII): A povoação nunca terá prosperado, como é prova o facto de não ter recebido foral próprio, apesar de os seus moradores terem diversos privilégios como testemunham os procuradores de Aveiro nas Cortes de Évora em 1451.
D. Manuel I incluiu Águeda no foral concedido a Aveiro, em 1515. Em troca, o local de Assequins, actualmente incluído na cidade, recebeu foral próprio de D. Manuel I.
O concelho de Águeda, com a elevação da sede a vila foi constituído a 31 de Dezembro de 1853, integrando diversos concelhos, de origem medieval então extintos, entre eles o de Aguada de Cima,o de Castanheira do Vouga e o de Préstimo.
Águeda foi elevada à categoria da cidade por lei de 14 de Agosto de 1985.
A importância de Águeda veio-lhe das várzeas que lhe ficam fronteiras e alastram na bacia que começa um pouco acima da Borralha. Foram elas as causas de se encontrarem os nomes locais, nos documentos que se reportam à primeira reconquista.
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Ir para: navegação, pesquisa
História de Águeda
Existem no actual concelho de Águeda abundantes vestígios comprovativos da presença romana, nomeadamente na estação arqueológica do Cabeço do Vouga. Relativamente à cidade, há fortes probabilidades de que a via romana que ligava Aeminium (Coimbra) a Cale (Gaia) passasse por Águeda.
No que concerne ao próprio nome de Águeda, existem várias suposições tendentes a desvendar a origem no nome do rio aqui situado, o qual já no século IX se chamava Ágata.
Em documento datado de 1050 são mencionadas diversas villas situadas na área do actual cocelho de Águeda, tendo várias delas topónimos de origem árabe.
A cidade actual procede do repovoamento feito nos inícios da Nacionalidade (século XI-século XII): A povoação nunca terá prosperado, como é prova o facto de não ter recebido foral próprio, apesar de os seus moradores terem diversos privilégios como testemunham os procuradores de Aveiro nas Cortes de Évora em 1451.
D. Manuel I incluiu Águeda no foral concedido a Aveiro, em 1515. Em troca, o local de Assequins, actualmente incluído na cidade, recebeu foral próprio de D. Manuel I.
O concelho de Águeda, com a elevação da sede a vila foi constituído a 31 de Dezembro de 1853, integrando diversos concelhos, de origem medieval então extintos, entre eles o de Aguada de Cima,o de Castanheira do Vouga e o de Préstimo.
Águeda foi elevada à categoria da cidade por lei de 14 de Agosto de 1985.
A importância de Águeda veio-lhe das várzeas que lhe ficam fronteiras e alastram na bacia que começa um pouco acima da Borralha. Foram elas as causas de se encontrarem os nomes locais, nos documentos que se reportam à primeira reconquista.
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Ir para: navegação, pesquisa